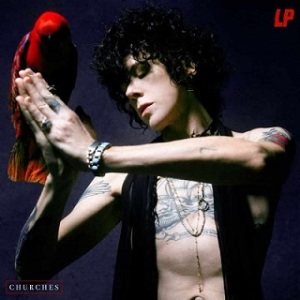O verso “more electric than before” (“mais elétrico do que antes”, em tradução livre) da faixa título e de abertura, resume bem o tom da obra. Mas a melhor parte, e justamente o fator responsável por não tornar Turborider um fiasco completo, é que as guitarras não foram relegadas a um segundo plano, tampouco tiveram seu som atenuado. E essa mistura gostosa de guitarras “sérias” com tecladinhos oitentistas é o que torna o álbum bem notável.
Curiosamente, a única música que manteve certa distância dessa roupagem toda (exceto pela bateria) foi o cover de “Bark at the Moon”, clássico oitentista de Ozzy Osbourne. Não chega a ser um cover, mas o prelúdio “Fight of the Cobra” homenageia a lenda “Eruption” do Van Halen antes de dar espaço a “Like a Cobra” – canção um tanto decepcionante por não entregar a agressividade que o prelúdio e o título sugeriam.
Se na resenha do lançamento anterior InVader (clique aqui para conferi-la) eu disse que trazer mais pop para o som era um movimento perigoso “num mundo cheio de fãs 666 from hell avessos a mudanças”, agora eu já digo que eles estão é certos em mergulhar nessa “bagunça calculada”. É como se a banda, mesmo que sob o risco de perder seguidores, “saísse do armário” e abraçasse com gosto aquilo que ela é. E o que ela é? Só ouvindo para descobrir.
Avaliação: 4/5.
Abaixo, o clipe da faixa-título: